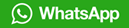-7f2d534ab5013d94.jpg)
Reportagem: Natasha Pinelli
Fotos: Marília Ruberti e Renato Rodrigues/Comunicação Butantan
A manhã do dia 1º de abril de 2025 começou nostálgica para o pesquisador científico e diretor do Laboratório de Toxinologia Aplicada (LETA) do Instituto Butantan, Inácio Junqueira de Azevedo. A bordo da lancha que o levaria pela 7ª vez à Ilha da Queimada Grande, um filme passava por sua cabeça: após duas décadas, ele, enfim, retornava ao território que tanto contribuiu para o desenvolvimento de uma das pesquisas mais importantes de sua carreira.
No início dos anos 2000, quando as investigações genéticas davam seus primeiros passos e ainda eram incipientes as técnicas de análise proteômica – vertente da ciência que estuda o conjunto de proteínas expressas por um determinado sistema biológico, como um órgão ou tecido –, o biólogo foi responsável pelo primeiro sequenciamento do transcriptoma da glândula de veneno de uma serpente realizado no mundo. No caso, a escolhida foi justamente a ilustre moradora da Queimada Grande: a jararaca-ilhoa.
.jpg)
Inácio Junqueira é pesquisador científico do Instituto Butantan e atual diretor do LETA (Foto: Renato Rodrigues)
Uma abordagem pioneira
Sob orientação do pesquisador e atual gerente de Desenvolvimento e Inovação de Produtos do Butantan, Paulo Lee Ho, que nos anos 2000 coordenava o programa de sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa, Inácio utilizou um método bastante inovador para caracterizar a peçonha da Bothrops insularis: analisar o material genético presente na glândula de veneno da espécie, que só ocorre na Ilha da Queimada Grande.
É no tecido dessa glândula que os genes relacionados à produção de toxinas são copiados em moléculas de RNA. Essas, por sua vez, servem como “moldes” para a síntese das proteínas do veneno. Ao extrair e sequenciar todos esses RNAs, os cientistas do Butantan conseguiram compreender quais são os genes ativados na glândula e, consequentemente, as toxinas produzidas e suas proporções.
Dispensando a necessidade de isolar e caracterizar individualmente cada proteína encontrada no veneno – o que, na época, era um processo bastante complexo e demorado –, a abordagem proposta por Paulo e Inácio revolucionou o estudo de venenos em todo o mundo. Até então, a análise do perfil transcriptômico vinha sendo aplicada apenas em estudos do organismo humano.
Após a publicação da descrição da diversidade do transcriptoma da glândula de veneno da Bothrops insularis, em 2002, a abordagem da dupla do Butantan passou a ser amplamente utilizada e, mais tarde, adaptada ao chamado sequenciamento de nova geração, que entrou em cena por volta de 2010. “Boa parte dos sequenciamentos publicados naquele período referenciam o nosso estudo, que se tornou um tipo de ‘guia’ sobre o assunto”, diz Inácio Junqueira. Desde então, o pesquisador já contribuiu com a análise de glândulas de veneno de inúmeras outras serpentes e animais peçonhentos, como aranha-marrom, peixe niquim, lagartas e até sanguessugas.
.jpg)
Foi durante a faculdade de biologia que Inácio conheceu a jararaca-ilhoa e ficou encantado com as particularidades apresentadas pelo animal apresenta (Foto: Renato Rodrigues)
Todos os caminhos levam à Ilha das Cobras
Fascinado por serpentes, Inácio se lembra com entusiasmo dos encontros que teve com cascavéis e jararacas durante a infância, quando passava férias na fazenda da família, localizada na região de Barretos, interior do estado de São Paulo. Mas, apesar do interesse por bichos, foi a curiosidade pelo universo microscópico que o levou a enveredar pelos rumos da biologia.
Como aluno do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), descobriu a mítica jararaca-ilhoa e a Ilha da Queimada Grande – localizada a 35 quilômetros da costa de Itanhaém, no litoral sul paulista. Conhecida popularmente como “Ilha das Cobras”, ela abriga cerca de 3.000 serpentes, sendo a segunda do planeta com a maior população do réptil por metro quadrado. “Escutava as histórias dos colegas que já tinham visitado a ilha e ficava pirando só de me imaginar naquele lugar”, conta o atual diretor do LETA.
Depois de trabalhar com taxidermia por estímulo do herpetólogo Miguel Trefaut – na época, seu professor na graduação –, e estagiar no Laboratório de Farmacologia do Butantan, onde teve suas primeiras experiências com o manuseio de RNA, Inácio chegou a uma importante conclusão: sua carreira profissional precisaria englobar serpentes e biologia molecular, unindo os dois universos que tanto o fascinavam.
.jpg)
O estudo de venenos permitiu ao pesquisador unir o universo da biologia molecular à paixão por serpentes (Foto: Renato Rodrigues)
Assim, sua trajetória acabou cruzando com a do pesquisador Paulo Lee Ho, responsável não apenas por inspirar o jovem biólogo a desbravar o caminho dos sequenciamentos genéticos que pipocavam mundo afora, mas também por um dos primeiros baldes de água fria que Inácio teve em sua vida acadêmica. Empolgado com a possibilidade de, finalmente, trabalhar com a jararaca-ilhoa durante seu projeto de pós-graduação, ele não teve sua escolha bem recebida pelo orientador.
“Como a coleta de espécimes seria um desafio à parte, o Paulo sugeriu que eu trabalhasse com a urutu-cruzeiro. Em um primeiro momento, aceitei; mas, no dia seguinte, procurei por ele e disse que só seguiria com a pesquisa se fosse com a ilhoa. Ele me olhou desconfiado e respondeu que não tinha como arranjar os exemplares que eu precisaria para o trabalho. Eu falei que daria um jeito”, recorda o pesquisador, que pagou os custos da viagem inicial que precisou ser feita até a Queimada Grande com a reserva técnica de sua bolsa de mestrado.
Ainda hoje, Inácio se lembra com carinho da primeira vez que partiu para a ilha. “Nunca tinha feito trabalho de campo e achei o máximo a oportunidade de ir para um lugar tão isolado. Estava empolgado para saber se realmente teria cobras para todos os lados e se acabaria sendo picado”, diverte-se.
.jpg)
As pesquisas desenvolvidas por Inácio Junqueira revolucionaram o estudo de venenos no mundo (Foto: Renato Rodrigues)
Contrariando expectativas e outros achados
Diante de resultados tão promissores e inovadores, o projeto que começou como um mestrado acabou se tornando um doutorado e persistiu por mais quatro anos.
Além de confirmar que, de fato, é possível conhecer o veneno de uma serpente olhando a sequência de RNAs produzida na glândula, a descrição da composição de toxinas da jararaca-ilhoa ajudou a colocar por terra o mito de que a serpente endêmica da Ilha da Queimada Grande possui um veneno muito mais potente do que a jararaca do continente (Bothrops jararaca).
“Esperávamos encontrar um veneno muito doido, repleto de moléculas desconhecidas, mas não foi isso o que aconteceu”, afirma Inácio Junqueira. Por mais que a Bothrops jararaca ainda não tivesse seu próprio transcriptoma sequenciado, diversos estudos bioquímicos avançados já haviam sido realizados com a espécie do continente e ajudaram a confirmar a semelhança entre os venenos de ambas.
Entre os principais achados do sequenciamento, o pesquisador destaca a caracterização das moléculas svVEGFs – toxina que, até então, não havia sido identificada em venenos de serpentes e que aumenta a permeabilidade vascular da presa, fazendo com que a peçonha se disperse de maneira mais efetiva pelo organismo. “Foi mais um trabalho de alto impacto. Depois da nossa publicação, pesquisadores de todo o mundo começaram a procurar a toxina em outras serpentes. Hoje, sabemos que a molécula está presente no veneno de todas as espécies da família Viperidae.”
.jpg)
Inácio com os colegas do Butantan em sua última visita à Queimada Grande, em abril de 2025 (Foto: Renato Marília Ruberti)
Histórias de pesquisador: marinheiros apavorados e encontros com contrabandistas
As diversas expedições realizadas à Queimada Grande renderam a Inácio boas histórias. Dentre as mais memoráveis, o pesquisador destaca a vez que precisou acompanhar uma viagem de membros da Marinha do Brasil à ilha para manutenção do farol existente na localidade.
“Estávamos nos preparando para desembarcar, e um dos jovens apareceu com aquelas vestimentas contra incêndio. Era bem cedo, fazia um calor horrível e ele queria fazer a trilha com aquela roupa porque estava com medo de ser picado”, conta.
Com 24 anos na época e acompanhado de outros dois técnicos do Butantan que não haviam visitado a ilha antes, Inácio foi nomeado o líder da expedição e o responsável por guiar mais de 30 marinheiros “apavorados” até a instalação. “Ainda tenho na memória aquela fila de jovens na trilha, cada um levando duas baterias nas costas. A mata estava fechada e acabei errando o caminho diversas vezes”, completa.
Já em outra visita, dessa vez acompanhado por colegas do Laboratório de Coleções Zoológicas do Butantan, Inácio tem certeza de ter cruzado com dois possíveis contrabandistas. Ao avistarem a equipe de cientistas, os desconhecidos – que não eram brasileiros – saíram em disparada e embarcaram em uma lancha que estava atracada nas proximidades.
Após realizar sua 6ª visita à Queimada Grande em 2004, o pesquisador científico do LETA ficou mais de duas décadas sem colocar os pés na ilha que sempre o atraiu, apesar de inúmeras tentativas abortadas.
Agora, prestes a publicar mais um estudo com achados inéditos sobre a jararaca-ilhoa, retornar à Ilha das Cobras tornou-se imprescindível e ele, finalmente, embarcou em sua 7ª expedição. “Foi muito inspirador estar lá novamente e relembrar aquela teimosia e o frescor de quando eu era um biólogo recém-formado”, afirma.
Para Inácio, a ilha mudou bastante ao longo dessas duas décadas, principalmente a vegetação. Em alguns pontos, a mata encontra-se muito mais fechada, sugerindo um processo natural de reflorestamento. “Algo que sempre chamou minha atenção e que se manteve são os encontros com o bicho naqueles momentos de calmaria. Quando ficamos um pouco ‘à toa’ e deixamos nosso olhar passear mata adentro, a jararaca-ilhoa sempre está lá”, finaliza.